 As bem conhecidas ineficiências das operações governamentais não são meros acidentes empíricos, resultados talvez de uma falta de tradição na área. Elas são inerentes a todas as iniciativas estatais. E a demanda excessiva que é gerada pelos serviços 'gratuitos' ou subprecificados ofertados pelo governo é apenas uma das várias razões dessa condição.
As bem conhecidas ineficiências das operações governamentais não são meros acidentes empíricos, resultados talvez de uma falta de tradição na área. Elas são inerentes a todas as iniciativas estatais. E a demanda excessiva que é gerada pelos serviços 'gratuitos' ou subprecificados ofertados pelo governo é apenas uma das várias razões dessa condição.
A oferta gratuita de um bem ou serviço não apenas subsidia os seus usuários à custa dos contribuintes que não o utilizam, como também faz com que os recursos sejam alocados erroneamente, fazendo com que os bens e serviços não sejam ofertados naquelas áreas que mais necessitam deles. O mesmo é válido, em um grau menor, sempre que o preço de um bem ou serviço está abaixo do preço de livre mercado. No livre mercado, os consumidores podem ditar a precificação e, com isso, garantir a melhor alocação dos recursos produtivos de modo a suprirem seus desejos. Em um empreendimento governamental, isso não pode ser feito.
Peguemos novamente o caso de um serviço gratuito. Como não há um sistema de preços para racionalizar as decisões — e, portanto, não há a exclusão de utilizações improdutivas —, não há como o governo, mesmo que ele queira, alocar seus serviços de modo a satisfazer as mais prementes necessidades e os mais ávidos consumidores. Todos os compradores e todas as necessidades são artificialmente mantidos no mesmo plano. Como resultado, as mais urgentes necessidades serão desprezadas, e o governo ver-se-á diante de insuperáveis problemas de alocação, os quais ele não pode resolver mesmo para benefício próprio.
Assim, o governo será confrontado com o seguinte problema: devemos construir uma estrada no local A ou no local B? Sem estar guiado pelo sistema de preços e pelo mecanismo de lucros e prejuízos, o governo simplesmente é incapaz de tomar uma decisão de maneira racional. Suas decisões serão tomadas somente de acordo com os caprichos do funcionário do governo que está no comando — isto é, somente se o funcionário do governo, e não o público, for quem estiver "consumindo". Se o governo de fato deseja fazer apenas o que é melhor para o público, ele está irremediavelmente lidando com uma tarefa impossível.
Diz-se com muita frequência que uma única empresa estatal, operando dentro da esfera de mercado privado, comprando bens e serviços deste, pode precificar seus serviços e alocar seus recursos eficientemente. Isso, entretanto, é incorreto. Existe uma falha incontornável que permeia todo o tipo concebível de empresa estatal e que inescapavelmente a impede de praticar uma precificação correta e de alocar eficientemente seus recursos. Por causa desta falha, uma empresa estatal jamais pode operar "em condições de mercado", não importam quais sejam as intenções do governo.
E qual é essa falha incontornável?
É o fato de que o governo pode obter recursos virtualmente ilimitados por meio de seu coercivo poder de tributação. Empresas privadas precisam obter seus fundos por meio de investidores que estão atrás de lucro e de consumidores que voluntariamente optam por consumir seus bens e serviços. É essa alocação de fundos feita por consumidores e investidores guiados por sua presciência e preferência temporal que vai direcionar os recursos para as mais lucrativas — e, portanto, mais úteis — aplicações. Empresas privadas podem adquirir seus fundos somente por meio de consumidores e investidores; em outras palavras, elas podem arrecadar fundos somente daquelas pessoas que valorizam e compram seus serviços, e daqueles investidores que estão dispostos a arriscar seu capital poupado investindo-o em algo que acreditam poder gerar algum lucro futuro. Ou seja: no mercado, pagamento e serviços são coisas indissoluvelmente complementares.
O livre mercado fornece um "mecanismo" para a alocação de fundos para consumo presente e futuro, para o direcionamento de recursos para as aplicações mais produtivas e valiosas para todas as pessoas. O mercado, por meio de seu funcionamento natural, fornece meios para os empreendedores alocarem recursos e precificarem serviços de modo a garantir seu uso otimizado. O governo, por outro lado, pode conseguir o tanto de dinheiro que ele quiser. O governo não possui rédeas sobre si mesmo; ele não está sob a exigência de satisfazer o teste de lucros e prejuízos que mede a qualidade do serviço ofertado a seus consumidores, algo que, no mercado, é o que permite a uma empresa obter fundos.
Empresas privadas — aquelas que operam em um ambiente de genuína livre concorrência, sem receber subsídios, benefícios e proteções do governo — podem adquirir seus fundos apenas de consumidores satisfeitos e de investidores guiados pelo mecanismo de lucro e prejuízo. Já o governo pode adquirir seus fundos literalmente de acordo com seus próprios caprichos.
Uma vez que não há rédeas, deixa de haver também qualquer chance de o governo alocar recursos racionalmente. Como pode o governo saber se deve construir a estrada A ou a estrada B, ou se deve "investir" em uma estrada ou em uma escola, ou se deve produzir mais eletricidade, ou se deve prospectar mais petróleo, ou se deve alterar seu serviço de entrega de cartas? Com efeito, como pode ele saber o quanto deve gastar em todas as suas atividades em que está envolvido? Não há maneira racional de o governo alocar fundos ou mesmo decidir o quanto ele deve ter.
Quando há uma escassez de professores, ou de salas de aula, ou de polícia ou de ruas, o governo e seus partidários têm apenas uma resposta: exigir mais dinheiro dos pagadores de impostos. Se a qualidade dos serviços ofertados pelo governo cai, isso significa que as pessoas devem renunciar a seu próprio dinheiro e entregá-lo de bom grado ao governo.
Por que essa mesma medida nunca é aventada no livre mercado? O motivo é que, para empresas que operam sob um arranjo de livre concorrência, esse dinheiro só pode ser obtido voluntariamente e em troca de bens ou serviços de maior qualidade. Ou seja, o dinheiro tem de ser retirado de seu presente uso em algum investimento ou consumo e essa retirada tem de ser voluntariamente concedida pelos próprios consumidores e investidores.
Empresas que operam sob um arranjo de livre concorrência têm de se guiar pelo sistema de lucro e prejuízo, o qual indica que os mais urgentes desejos dos consumidores estão sendo atendidos. Se uma empresa ou produto estão gerando altos lucros para seus proprietários, e esses lucros tendem a continuar, então mais dinheiro estará disponível no futuro; caso esteja ocorrendo o oposto, e a empresa esteja incorrendo em prejuízos, o dinheiro estará fluindo para fora daquele empreendimento. O sistema de lucros e prejuízos serve como guia crítico para direcionar o fluxo de recursos produtivos. Tal guia não existe para o governo, que não possui uma maneira racional de decidir o quanto de dinheiro ele deve gastar, seja no total ou em algum setor em específico. Quanto mais dinheiro ele gastar, mais serviços ele pode ofertar — mas onde parar?
Defensores de empresas estatais podem contra-argumentar dizendo que o governo poderia simplesmente dizer a seus burocratas para agirem como se estivessem em uma empresa em busca de lucros e que operassem da mesma maneira que uma empresa privada. Há dois defeitos nessa teoria. Primeiro, é impossível brincar de empresa. Empreender significa arriscar o próprio dinheiro em um investimento. Burocratas e políticos não têm incentivo real em desenvolver habilidades empreendedoriais, em se ajustar de fato às demandas do consumidor. Eles não arriscam a perda do próprio dinheiro no empreendimento.
Segundo, fora a questão dos incentivos, mesmo os mais ávidos administradores estatais não poderiam operar como se fossem empreendedores privados. Independente do tratamento concedido ao empreendimento após ela já ter se estabelecido, a criação da empresa é feita com dinheiro de impostos — portanto, por meio da taxação coerciva. Essa empresa estatal já nasceu com um grave defeito "enraizado" em seus órgãos vitais. Ademais, quaisquer gastos futuros poderão ser feitos utilizando-se de receitas tributárias, o que faz com que as decisões dos administradores estejam sujeitas aos mesmos vícios. A facilidade de se obter dinheiro irá inevitavelmente distorcer as operações da empresa estatal.
Além disso, o estabelecimento de uma empresa estatal cria uma inevitável vantagem competitiva sobre as outras empresas privadas, pois ao menos parte de seu capital foi obtido por meio da coerção, e não dos serviços prestados. Torna-se claro que o governo, com seu ilimitado poder de subsídio próprio, pode expulsar empresas privadas de sua área de atuação. O investimento privado no mesmo setor em que opera uma estatal será enormemente restringido, uma vez que futuros investidores sabem que terão prejuízos por causa de seus privilegiados concorrentes governamentais.
Ademais, considerando-se que todos os serviços concorrem entre si pelo dinheiro do consumidor, todas as empresas privadas e todos os investimentos privados serão de alguma forma afetados e obstruídos. E quando a empresa estatal começar a operar, irá gerar temor nas outras empresas da área — ou elas perderão seus investimentos, ou elas serão confiscadas ou serão forçadas a competir com empresas subsidiadas pelo governo. O temor tende a reprimir ainda mais os investimentos produtivos, o que gera um decréscimo no padrão de vida.
O argumento que decide a questão, e que é utilizado corretamente pelos oponentes das empresas estatais, é: se operações empresariais são tão desejáveis, por que seguir uma rota tão tortuosa? Por que não abolir o gerenciamento estatal e entregar à iniciativa privada todas as operações? Por que escolher o caminho mais difícil de tentar imitar o ideal (o gerenciamento privado) quando o ideal pode ser obtido diretamente? A alegação de o governo estar buscando princípios de mercado, portanto, não faz sentido, mesmo que a empreitada porventura desse certo.
Nos casos em que o governo não pode nem sequer competir com outras empresas sob essas condições, ele pode arrogar a si próprio um monopólio compulsório, expulsando os concorrentes à força. Isso ocorre, por exemplo, no caso dos Correios. Quando o governo garante a si próprio um monopólio, ele pode ir para o lado oposto dos serviços gratuitos: ele pode passar a cobrar um preço de monopólio. Cobrar um preço de monopólio — o oposto a um preço de livre mercado — distorce os recursos e cria uma escassez artificial do bem em questão. Também gera uma qualidade de serviços extremamente baixa. Um monopólio estatal não precisa se preocupar com a possibilidade de seus clientes recorrerem à concorrência ou com o fato de que a ineficiência possa significar o fim de suas operações. Da mesma maneira, somente o governo pode fazer anúncios vaidosos de que vai cortar serviços para economizar. Na iniciativa privada, só é possível economizar exitosamente melhorando a eficiência dos serviços prestados.
Uma razão adicional para a ineficiência governamental já foi mencionada: os funcionários não têm incentivos para ser eficientes. De fato, as habilidades que eles vão desenvolver não serão habilidades econômicas voltadas para a produção, mas habilidades políticas — tais como conchavos políticos, esquemas de propina em licitações, loteamentos de cargos para apadrinhados políticos, bajulação de pessoas em altos cargos públicos e tentativas de seduzir demagogicamente o eleitorado. Essas habilidades são muito diferentes das habilidades produtivas, e consequentemente as pessoas que ascendem ao topo na política são diferentes daquelas que obtêm êxito no mercado.
É particularmente absurdo clamar por "princípios de mercado" quando se tem uma empresa estatal funcionando como monopólio. Periodicamente, há demandas para que os Correios sejam geridos "como uma empresa privada" e assim acabem com seus déficits, que são pagos pelo contribuinte. Mas acabar com o déficit em uma operação governamental que é necessariamente e inerentemente ineficiente não significa que se está adotando princípios da iniciativa privada. Para se fazer isso (acabar com déficit), os preços dos serviços teriam de ser elevados a níveis de preços monopolísticos, de modo que seja possível cobrir os custos das ineficiências do governo. Porém, um preço de monopólio irá gerar um fardo excessivo sobre os usuários dos serviços postais, principalmente quando se sabe que o monopólio é compulsório.
Por outro lado, já vimos que mesmo os monopolistas precisam agir de acordo com a curva de demanda dos consumidores. Se essa demanda for suficientemente elástica, é bem possível que um preço de monopólio reduza as receitas a tal ponto que um preço maior fará com que os déficits aumentem ao invés de diminuir. Um exemplo famoso foi o do metrô de Nova York nas décadas de 1960 e 1970: no intuito de zerar seu déficit, a administração do metrô começou a aumentar as tarifas. Resultado: o volume de passageiros caiu tão drasticamente que o déficit aumentou ainda mais.
Empreendimentos governamentais não apenas irão obstruir e reprimir o investimento privado e o empreendedorismo no mesmo setor em que o estado atua ou em outros setores da economia, mas também irão desorganizar todo o mercado de trabalho. Pois (a) o governo irá diminuir a produção e o padrão de vida da sociedade ao desviar para a burocracia a mão-de-obra potencialmente produtiva; (b) ao utilizar fundos confiscados, o governo será capaz de pagar aos seus burocratas um salário maior que o de mercado, o que fará com que os parasitas que buscam empregos no setor público clamem por uma expansão da improdutiva máquina burocrática; e (c) por meio dos altos salários, todos financiados via impostos, o governo pode iludir trabalhadores e sindicatos a crer que esses representam de fato os salários do setor privado, o que levará os sindicatos a exigir salários mais altos, causando desemprego desnecessário.
Ademais, as empresas estatais, que se baseiam na coerção do consumidor, dificilmente substituirão seus valores por aqueles de seus consumidores. Logo, serviços de baixa qualidade e artificialmente padronizados — modelados de acordo com o gosto e a conveniência do governo — seguirão impávidos, em contraste com aqueles ofertados no livre mercado, onde serviços diversificados e de alta qualidade são ofertados de modo a satisfazer os gostos variados de uma multiplicidade de indivíduos.
Um cartel ou uma empresa não podem ser proprietários de todos os meios de produção de uma economia. Pois se fossem, não poderiam calcular preços e alocar os fatores de maneira racional. Essa é a razão por que o socialismo não foi capaz de planejar e tampouco alocar racionalmente. Com efeito, mesmo dois ou mais estágios de produção não poderiam ser completamente integrados verticalmente no mercado, pois a total integração iria eliminar todo um segmento do mercado e estabelecer uma ilha de caos calculacional e alocacional, ilha essa que iria impossibilitar o planejamento ótimo dos lucros e a satisfação máxima dos consumidores.
No caso da simples gerência estatal, surge uma outra extensão dessa tese. Pois cada empresa governamental introduz sua própria ilha de caos na economia; não é preciso esperar pelo socialismo para que o caos comece a reinar. Uma empresa governamental jamais poderá determinar preços ou custos ou alocar fatores ou fundos de maneira racional e maximizadora do bem-estar. Nenhuma empresa estatal pode ser estabelecida "em caráter de mercado" mesmo que tal desejo estivesse presente. Logo, qualquer operação estatal cria um ponto de caos dentro da economia. E dado que todos os mercados são interconectados na economia, cada atividade governamental desorganiza e distorce os preços, a alocação dos fatores, a razão entre consumo e investimento etc.
Todo e qualquer empreendimento governamental não apenas diminui as utilidades sociais do consumidores — ao forçar a alocação de fundos para fins outros que não aqueles desejados pelo público —, como também diminui a utilidade de todos os indivíduos (incluindo, talvez, as utilidades do funcionários do governo), pois distorce o mercado e difunde o caos calculacional. Quanto maior a extensão da participação do estado, mais pronunciado será esse impacto.
Além das consequências puramente econômicas, a gerência estatal cria outro tipo de impacto na sociedade: ela necessariamente substitui a harmonia do livre mercado pelos conflitos. Dado que serviços governamentais significam serviços decididos por uma equipe de tomadores de decisão, a consequência real é que os serviços passam a ser uniformes. Os desejos de todos aqueles que foram forçados, direta ou indiretamente, a pagar pelos serviços estatais não poderão ser satisfeitos. Apenas alguns formatos desses serviços poderão ser ou serão ofertados pela agência governamental. Como resultado, empreendimentos estatais criam enormes conflitos de casta entre os cidadãos, cada qual tendo uma ideia diferente sobre a melhor forma de serviço.
Um notável exemplo disso são as escolas públicas. Alguns pais ainda preferem escolas segregadas por gênero; outros preferem educação integrada. Alguns pais querem que seus filhos aprendam socialismo; outros querem ensino anti-socialista nas escolas. Não há maneira de o governo solucionar esses conflitos. Ele pode apenas impor a vontade da maioria (ou uma "interpretação" burocrática dela) por meio da coerção e com isso deixar uma minoria — quase sempre significativa — insatisfeita e rancorosa. Qualquer que seja o tipo de escola pública escolhida, alguns grupos de pais irão sofrer. Por outro lado, não há conflitos desse tipo no livre mercado, que fornece qualquer tipo de serviço demandado. No mercado, aqueles que querem escolas separadas por gênero ou integradas, socialistas ou individualistas, podem ter seus desejos satisfeitos. Torna-se óbvio, portanto, que a oferta governamental de serviços — em oposição à oferta privada — reduz a qualidade de vida de grande parte da população.
Portanto, ao ponderar a questão do gerenciamento privado versus gerenciamento estatal de qualquer empreendimento, é preciso ter em mente as seguintes conclusões da nossa análise:
1. Todo e qualquer serviço pode ser ofertado privadamente no mercado;
2. A iniciativa privada e o livre mercado são mais eficientes em ofertar serviços de melhor qualidade a custos mais baixos;
3. A alocação de recursos em um empreendimento privado irá melhor satisfazer as demandas dos consumidores, ao passo que um empreendimento estatal irá distorcer alocações e criar ilhas de caos calculacional;
4. Empreendimentos estatais irão reprimir a atividade privada tanto nas empresas que concorrem diretamente com o estado como nas que estão em outras áreas.
5. Empreendimentos privados no livre mercado asseguram uma harmoniosa e cooperativa satisfação de desejos, ao passo que empreendimentos estatais criam conflitos de casta.

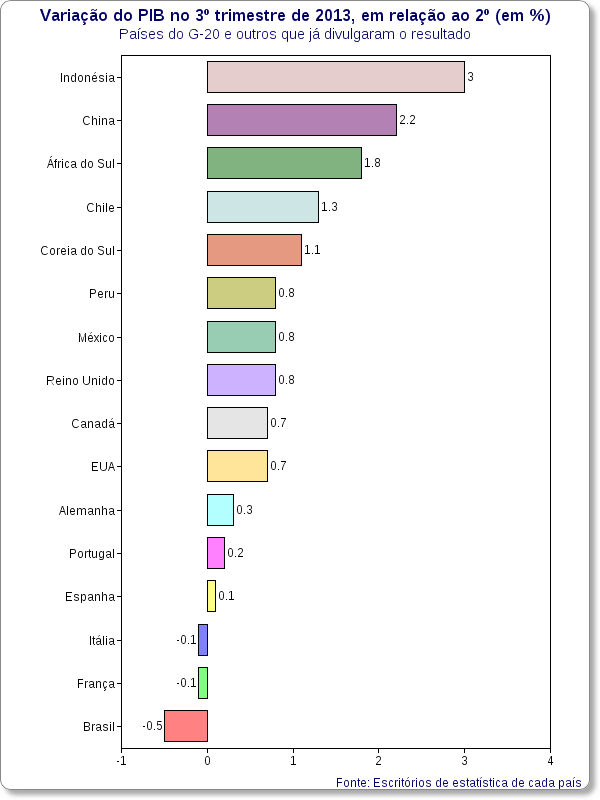


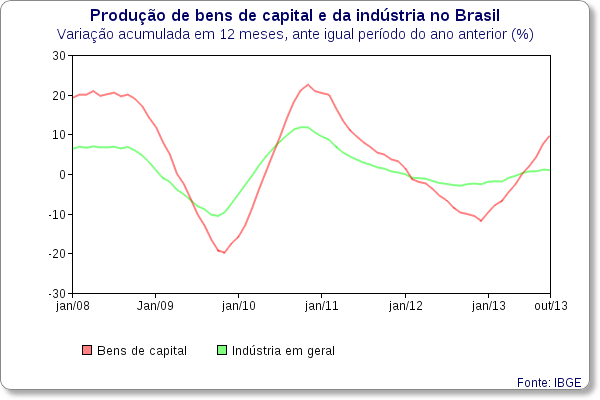
 As bem conhecidas ineficiências das operações governamentais não são meros acidentes empíricos, resultados talvez de uma falta de tradição na área. Elas são inerentes a todas as iniciativas estatais. E a demanda excessiva que é gerada pelos serviços 'gratuitos' ou subprecificados ofertados pelo governo é apenas uma das várias razões dessa condição.
As bem conhecidas ineficiências das operações governamentais não são meros acidentes empíricos, resultados talvez de uma falta de tradição na área. Elas são inerentes a todas as iniciativas estatais. E a demanda excessiva que é gerada pelos serviços 'gratuitos' ou subprecificados ofertados pelo governo é apenas uma das várias razões dessa condição.
 Apesar de toda a ampla literatura disponível, ainda há pessoas que genuinamente acreditam que a economia é um jogo de soma zero, isto é, que para algumas pessoas ganharem outras têm necessariamente de perder. Tais pessoas acreditam que a economia seria uma espécie de bolo, cujo tamanho é fixo e representa toda a riqueza disponível. Sendo assim, cada indivíduo que se apossa de uma fatia está na realidade retirando esta fatia da boca de outro indivíduo. A verdade, no entanto, é que este bolo de riqueza não tem um tamanho fixo; ao contrário, ele cresce de maneira tal que há cada vez mais quantidade disponível para todos.
Apesar de toda a ampla literatura disponível, ainda há pessoas que genuinamente acreditam que a economia é um jogo de soma zero, isto é, que para algumas pessoas ganharem outras têm necessariamente de perder. Tais pessoas acreditam que a economia seria uma espécie de bolo, cujo tamanho é fixo e representa toda a riqueza disponível. Sendo assim, cada indivíduo que se apossa de uma fatia está na realidade retirando esta fatia da boca de outro indivíduo. A verdade, no entanto, é que este bolo de riqueza não tem um tamanho fixo; ao contrário, ele cresce de maneira tal que há cada vez mais quantidade disponível para todos.