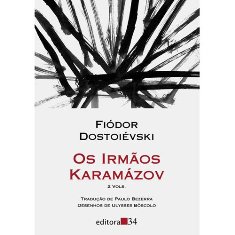 Em Os irmãos Karamázov, Dostoiévski elabora o seguinte diálogo:
Em Os irmãos Karamázov, Dostoiévski elabora o seguinte diálogo:− O diabo existe?
− Não, não existe.
− Tanto pior. Não sei o que eu teria feito ao primeiro fanático que inventou Deus. Enforcá-lo seria insuficiente.
− Sem essa invenção não haveria civilização*.
Ao retomar as minhas anotações sobre a leitura deste clássico da literatura universal, lembrei-me de outro trecho sobre a existência daquele cujos nomes são os mais diversos e inimagináveis. Trata-se de uma divertida conversa entre uma criança e sua mãe, escrita por Graciliano Ramos, em sua obra Infância, de inspiração autobiográfica. Vale a pena ler o trecho na íntegra:
Às vezes minha mãe perdia as arestas e a dureza, animava-se, quase se embelezava. Catorze ou quinze anos mais moço que ela, habituei-me, nessas tréguas curtas e valiosas, a julgá-la criança, uma companheira de gênio variável, que era necessário tratar cautelosamente. Sucedia desprecatar-me e enfadá-la. Os catorze ou quinze anos surgiam entre nós, alargavam-se de chofre – e causavam-me desgosto.A pedagogia do medo nos faz acreditar em coisas que nem imaginamos! O menino Graciliano é uma exceção que confirma a regra. De qualquer forma, convenhamos seu estilo é bem-humorado, sem perder de vista a seriedade da questão. Até porque, chineladas fazem doer!
Um dia, em maré de conversa, na prensa de farinha do copiar, minha mãe tentava compor frases no vocabulário obscuro dos folhetos, Eu me deixava embalar pela música. E de quando em quando aventurava perguntas que ficavam sem respostas e perturbavam a narradora.
Súbito ouvi uma palavra doméstica e veio-me a idéia de procurar a significação exata dela. Tratava-se do inferno. Minha mãe estragou a curiosidade: impossível um menino de seis anos, em idade de entrar na escola, ignorar aquilo. Realmente eu possuía noções. O inferno era um nome feio, que não devíamos pronunciar. Mas não era apenas isso. Exprimia um lugar ruim, para onde pessoas mal-educadas mandavam outras, em discussões. E num lugar existem casas, árvores, açudes, igrejas, tanta coisa, tanta coisa que exigi uma descrição. Minha mãe condenou a exigência e quis permanecer nas generalidades. Não me conformei. Pedi esclarecimentos, apelei para a ciência dela. Por que não contava o negócio direitinho? Instada, condescendeu. Afirmou que aquela terra era diferente das outras. Não havia lá plantas, nem currais, nem lojas, e os moradores, péssimos, torturados por demônios de rabo e chifres, viviam depois de mortos em fogueiras maiores que a de S. João e em tachas de breu derretido. Falou um pouco a respeito dessas criaturas.
Fogueiras de S. João eu conhecia. Tinha-se feito uma diante de casa. Eu andara à tardinha em redor do monte de lenha que o moleque José arrumava. Admirando os aprestos, espantava-me de haver nascido ali de supetão um mamoeiro carregado de frutos verdes. Á noite deitara-se na pilha uma garrafa de querosene, viera um tição. E eu ficara na calçada até dez horas, olhando as labaredas, que meu pai alimentava com aduelas e sarrafos. A gente da vila mexia-se, ria e cantava, iluminada por outros fogos. No dia seguinte as folhas do mamoeiro se torravam, pulverizavam. E na rua, desentulhada, apareciam grandes manchas negras.
Também conhecia o breu derretido. No armazém, barricas finas continham substância escura que, pisada, tirava a cor das moedas de vintém livres do azinhavre, raspadas no tijolo, molhadas e enxutas. Eu havia esfarelado um pedaço dessa maravilha, com um peso de meio quilo, junto à balança romana da loja. Tinha posto a massa dourada num cartucho de jornal, riscado um fósforo em cima e esperado o fenômeno. Uma lágrima correra no papel, alcançara-me o dedo anular, descera da unha a primeira falange. Largando a experiência, eu me desesperara, abafando os gritos, fora meter a mão num pote de água. Tinha sofrido em silêncio, receando que percebessem a traquinada e a queimadura.
Quando minha mãe falou em breu derretido, examinei a cicatriz do dedo e balancei a cabeça, em dúvida. Se o pequeno torrão, esmagado com o peso de meio quilo, originara aquele desastre, como admitir que pessoas resistissem muitos anos a barricas cheias derramadas em tachas fundas, sobre fogueira de S. João?
- A senhora esteve lá?
Desprezou a interrogação inconveniente e prosseguiu com energia.
— Eu queria saber se a senhora tinha estado lá.
Não tinha estado, mas as coisas se passavam daquela forma e não podiam passar-se de forma diversa. Os padres ensinavam que era assim.
— Os padres estiveram lá?
A pergunta não significava desconfiança na autoridade. Eu nem pensava nisso. Desejava que me explicassem a região de hábitos curiosos. Não me satisfaziam as fogueiras, as tachas de breu, vítimas e demônios. Necessitava pormenores.
Minha mãe estragara a narração com uma incongruência. Assegurara que os diabos se davam bem na chama e na brasa. Desconhecia, porém, a resistência das almas supliciadas. Dissera que elas suportariam padecimentos eternos. Logo insinuara que, depois de estágio mais ou menos longo, se transformariam em diabos. Indispensável esclarecer esse ponto. Não busquei razões, bastavam-me afirmações. Achava-me disposto a crer, aceitaria os casos extraordinários sem esforço, contanto que não houvesse neles muitas incompatibilidades. Reclamava uma testemunha, alguém que tivesse visto diabos chifrudos, almas nadando em breu. Ainda não me havia capacitado de que se descrevem perfeitamente coisas nunca vistas.
− Os padres estivaram lá? — Tornei a perguntar.
Minha mãe irritou-se, achou-me leviano e estúpido. Não tinham estado, claro que não tinham estado, mas eram pessoas instruídas, aprendiam tudo no seminário, nos livros. Senti forte decepção: as chamas eternas e as caldeiras medonhas esfriaram. Começava a julgara história razoável, adivinhava por que motivo Padre João Inácio, poderoso e meio cego, furava os braços da gente, na vacina. Com certeza Padre João Inácio havia perdido um olho no inferno e de lá trouxera aquele mau costume. A resposta de minha mãe desiludiu-me, embaralhou-me as idéias. E pratiquei um ato de rebeldia:
— Não há nada disso.
Minha mãe esteve algum tempo analisando-me, de boca aberta, assombrada. E eu, numa indignação por se haverem dissipado as tachas de breu, os demônios, o prestígio de Padre João Inácio, repeti:
—Não há não. É conversa.
Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias chineladas. Não me convenci. Conservei-me dócil, tentando acomodar-me às esquisitices alheias. Mas algumas vezes fui sincero, idiotamente. E vieram-me chineladas e outros castigos oportunos. **
Sim, o Diabo existe! Sem ele, é impensável a existência de Deus. Acreditar em Deus significa aceitar a existência do seu oposto; um necessita do outro para afirmarem-se perante a imaginação humana. Desconfio que foi o próprio Senhor que o criou. Ou terá sido a mente humana quem criou a ambos?!
Se o personagem dostoievskiano estiver certo, ambos são fatores que contribuem para a existência da civilização. Sem a adoração e o temor ao sobrenatural, o ser humano estaria livre de todas as amarras que o prendem à moral religiosa e só Deus – e o Diabo, é claro – sabem do que o humano, demasiado humano, é capaz! Eis que as forças que o oprimem o corpo, as leis e os instrumentos humanos criados para manter a ordem social são insuficientes. É necessário, ainda, controlar as mentes, aterrorizá-las e mantê-las pacificadas. Em outras palavras, é preciso garantir a submissão do espírito. Eis a função civilizadora da idéia de Deus e do Diabo. Não obstante, quantas barbaridades foram e são cometidas em Nome de Deus?!
Nenhum comentário:
Postar um comentário